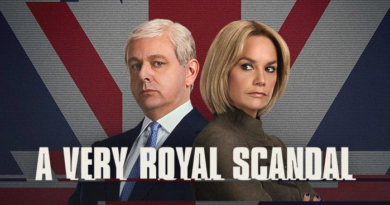Pega Essa Dica – Hurry Up Tomorrow
“Hurry Up Tomorrow”, protagonizado por Abel Tesfaye (The Weeknd) e dirigido por Trey Shults, revela-se uma empreitada esteticamente deslumbrante, porém estruturalmente frágil. A produção, que flerta com o formato de videoclipe expandido, desliza para um campo onde a forma prevalece com intensidade sobre o conteúdo, resultando em uma obra visualmente impactante, mas dramaticamente estéril.

A fotografia em película e o uso criativo da luz natural conferem ao filme um acabamento analógico sofisticado. Cores saturadas, composições oníricas e uma direção de arte meticulosa constroem um universo sensorial imersivo, em que emoção e estética se fundem num fluxo visual contínuo. A trilha sonora, também orquestrada por Tesfaye, dita o ritmo da narrativa e sustenta a atmosfera com precisão, operando mais como uma espinha dorsal musical do que como instrumento de desenvolvimento narrativo.
Entretanto, toda essa exuberância visual não consegue disfarçar a superficialidade do enredo. A narrativa, centrada em relacionamentos tóxicos e nos efeitos devastadores da codependência emocional, não evolui além de uma série de vinhetas simbólicas que reiteram, incessantemente, os mesmos temas: solidão, decadência emocional, autoindulgência e o peso da fama. São elementos já amplamente explorados na discografia de Tesfaye, aqui apresentados como um espelho autorreferencial que carece de novidade ou aprofundamento.

Embora flerte com elementos do thriller psicológico e do terror, o filme não sustenta a tensão com eficácia. Os recursos do gênero são empregados de forma previsível: sustos fáceis, trilha sonora onipresente e uma sensação de ameaça que raramente se concretiza. A tentativa de provocar inquietação esbarra em escolhas formais que comprometem a imersão — sobretudo o uso recorrente da voz de Tesfaye, que funciona mais como lembrete de que se trata de uma extensão audiovisual de seu disco do que como ferramenta narrativa coesa. O horror presente é, nesse contexto, mais estético que afetivo; mais superfície do que propulsão interna da história.
A performance de Abel Tesfaye, embora imersa em um evidente esforço de vulnerabilidade, é insuficiente para conferir densidade dramática ao personagem. Sua limitação como ator torna-se particularmente evidente em cenas que exigem nuance emocional — algo que a linguagem musical frequentemente lhe permite mascarar, mas que o cinema, implacável em sua transparência, não perdoa.

Por outro lado, Jenna Ortega e Barry Keoghan oferecem atuações que conferem à obra uma densidade que o roteiro, por si só, não atinge. Ortega, no papel de Anima, entrega uma performance de notável intensidade emocional, traduzindo com precisão uma gama complexa de sentimentos contraditórios. Sua personagem é construída como uma figura ambígua, ao mesmo tempo enigmática e inquietante — há momentos em que seus gestos roçam o psicótico, sem jamais perder a humanidade. A leitura simbólica de sua personagem como uma representação da anima, no sentido junguiano — a projeção do aspecto feminino inconsciente no psiquismo masculino — confere uma camada adicional de sentido à dinâmica que estabelece com o protagonista. Ortega se destaca justamente por sua capacidade de habitar essa dualidade: musa e ameaça, desejo e desconstrução.
Keoghan, embora com um papel mais contido em termos de tempo em cena, ancora sua presença com notável precisão dramática. Sua habilidade em expressar emoções complexas com economia de gestos, aliada a uma presença sólida, contribui significativamente para sustentar o drama nos poucos momentos em que é convocado a intervir. Ambos os atores parecem entender com exatidão o tipo de linguagem que o filme exige — algo que, infelizmente, não se pode dizer do próprio protagonista.
Do ponto de vista conceitual, o longa busca uma linguagem sensorial e fragmentada, aspirando à estética do fluxo de consciência – um modelo narrativo frequentemente associado ao cineasta Terrence Malick. A referência, aqui, não é gratuita: Tesfaye trabalhou com Malick em funções técnicas, experiência que ele próprio já citou como influente na sua formação visual. Essa proximidade estética é evidente, mas o filme carece da densidade filosófica que sustenta o cinema do mentor. A tentativa de replicar esse fluxo impressionista de imagens e sons frequentemente se resolve apenas em estilização sem substância, reforçando o caráter episódico e a ausência de verdadeiro desenvolvimento dramático.

É importante reconhecer, contudo, que este não é um desastre comparável a The Idol. Aqui, o autorretrato é mais claro, mais confessional e menos impregnado de um discurso misógino mal disfarçado. O filme assume-se como uma espécie de sessão pública de terapia — ainda que envolta em artifícios visuais —, oferecendo ao espectador uma imersão no universo emocional do artista. Para os fãs, essa exposição pode soar como um desdobramento legítimo de sua obra musical. Para os demais, permanece a sensação de que tudo isso teria sido mais eficaz — e mais honesto — como um curta-metragem experimental ou um álbum visual, ao invés de um longa que se estende além de sua capacidade de sustentar interesse.
No fim das contas, trata-se de uma obra que, embora tecnicamente refinada e visualmente marcante, carece de direção narrativa, de densidade dramática e de um propósito que vá além da contemplação estética. Um exercício de estilo que impressiona os sentidos, mas pouco acrescenta à linguagem do cinema.